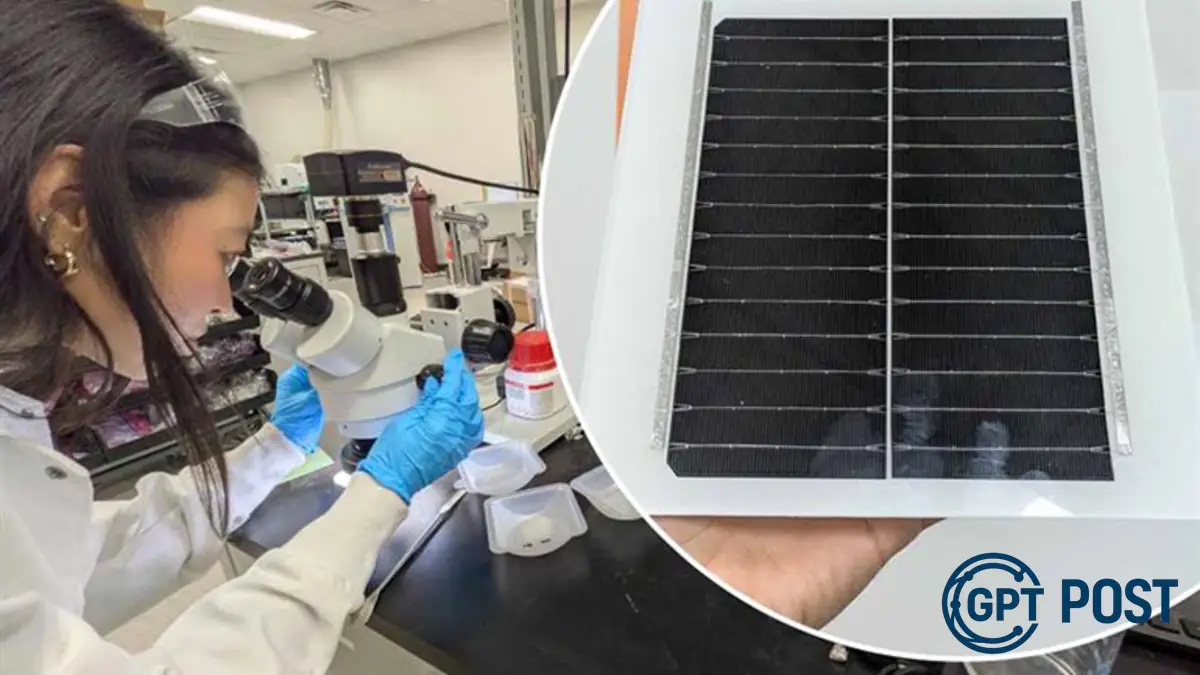Em pleno Festival de Salzburgo, a nova produção Maria Stuarda, de Donizetti, prometia ser um espetáculo de enredo histórico e tensão política. Dirigida por Ulrich Rasche, a peça transportou o público para dois mundos opostos: a Inglaterra e a Escócia, representadas por duas imponentes torres giratórias que lembravam verdadeiras planetas inacessíveis. A ideia era criar um universo visual em que as irmãs inimigas, Mary Stuart e Elizabeth I, fossem literalmente distantes, mas conectadas por um destino inexorável.
Contudo, o que se viu foi algo bem diferente do esperado. A produção, transmitida ao vivo pela emissora Mezzo, teve seu efeito mitigado pelas dificuldades de visualização em tempo real. O cenário monumental, com suas torres capazes de se inclinar e movimentar em todas as dimensões, era certamente impressionante no palco — e talvez ainda mais espetacular na telinha. Mas o que verdadeiramente chamou a atenção foi a sonorização excessiva e os mecanismos lentos que permeavam a peça.
Enquanto os ruídos da maquinaria ecoavam no teatro, o público assistia à história de um encontro nunca ocorrido entre Mary Stuart e Elizabeth I, inspirado na obra de Schiller. A trama, que culminava com a decapitação de Maria Estuarda em 1587, parecia ter sido arrastada pela própria lentidão da produção. Os movimentos mecânicos e o barulho constante não deixavam dúvida: a peça não era só sobre o destino implacável das duas monarcas, mas também sobre a monotonia que pode levar à morte.
Para os espectadores, restava a pergunta: será que Ulrich Rasche quis realmente retratar a saga de Mary Stuart, ou estava mais interessado em explorar a ferragem do teatro?